A questão do protagonismo juvenil no Ensino Médio brasileiro: uma crítica curricular
Resumo
Atualmente, assistimos a uma retomada conceitual da noção de protagonismo juvenil no Brasil. Distanciando-se das possibilidades de transformação social, que caracterizavam suas origens no século XX, o protagonismo, agora esboçado, se situa na valorização da capacidade de escolha dos estudantes e da consequente responsabilização juvenil. Com a publicação de um currículo nacional, tornou-se possível dimensionar melhor a questão do conhecimento escolar e os modos pelos quais o protagonismo juvenil se inscreve como um princípio curricular. Esse artigo deriva-se de uma análise documental dos textos curriculares publicados recentemente no Brasil e tomou, como ferramenta conceitual, a noção de epistemologia social. A hipótese desenvolvida refere-se à emergência de um “imperativo da autenticidade”, que posiciona os estudantes como eternos colecionadores de experiências originais em um contexto cada vez mais padronizador e pouco afeito a diferenças e a singularidades.
Palavras-chave
Referências
BALL, S. Gobernanza neoliberal y democracia patológica. In: COLLET, J.; TORT, A. (orgs.). La gobernanza escolar democrática. Madrid: Morata, 2016. p. 23-40.
BARBOSA, M. Educação, vida precária e capacitação. Educação e Sociedade, Campinas, v. 39, n. 144, p. 584-599, jul./set. 2018. https://doi.org/10.1590/ES0101-73302018181445
BAUMAN, Z. Capitalismo parasitário. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
BOLTANSKI, L. Questionando a realidade. Diálogo Global, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 8-10, mar. 2017.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2018.
BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Base nacional comum curricular: educação é a base: ensino médio. Brasília, DF, 2018.
BRÖCKLING, U. El self emprendedor: sociología de una forma de subjetivación. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015.
BROWN, W. El pueblo sin atributos. Barcelona: Malpaso, 2016.
CABANAS, E.; ILLOUZ, E. Happycracia. Barcelona: Paidós, 2019.
CASTEL, R. La sociología y la respuesta a la demanda social. In: LAHIRE, B. (org.). Para qué sirve la sociología? Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2006. p. 89-99.
DARDOT, P.; LAVAL, C. A nova razão do mundo. São Paulo: Boitempo, 2016.
DELEUZE, G. Post-Scriptum sobre as sociedades de controle. Conversações: 1972-1990. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. p. 219-226.
DUSSEL, I. Es el curriculum relevante en la cultura digital? Debates y desafíos sobre La autoridad cultural contemporánea. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, Tempe, v. 22, n. 24, p. 1-22, 2014.
DUSSEL, I.; CARUSO, M. A invenção da sala de aula: uma genealogia das formas de ensinar. São Paulo: Moderna, 2003.
FERRETTI, C. A reforma do Ensino Médio e sua questionável concepção de qualidade da educação. Estudos Avançados, São Paulo, v. 32, n. 93, p. 25-42, maio-ago. 2018. https://doi.org/10.5935/0103-4014.20180028
FERRETTI, C.; ZIBAS, D.; TARTUCE, G. Protagonismo juvenil na literatura especializada e na reforma do ensino médio. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 122, p. 411-423, ago. 2004. https://doi.org/10.1590/S0100-15742004000200007
FOUCAULT, M. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
GABRIEL, C. Conhecimento escolar e emancipação: uma leitura pós-fundacional. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 46, n. 159, p. 104-130, jan./mar. 2016. https://doi.org/10.1590/198053143551
GABRIEL, C. Reforma do ensino médio: desafios ou ameaças para a construção de uma escola pública democrática. In: FERREIRA, M.; PAIM, J. (orgs.). Os desafios do ensino médio. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. p. 171-186.
GABRIEL, C.; CASTRO, M. Conhecimento escolar: objeto incontornável da agenda política educacional contemporânea. Revista Educação em Questão, Natal, v. 45, n. 31, p. 82-110, jan./abr. 2013. https://doi.org/10.5238/2013v45n310082
GALIAN, C.; STEFENON, D. Por que é tão difícil definir o conhecimento a ser ensinado na escola?: um olhar para a Geografia. Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 32, n. 64, p. 1-22, jan./abr. 2018. https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v32n64a2018-04
GRINBERG, S. Dispositivos pedagógicos, gubernamentalidad y pobreza urbana en tempos gerenciales: un estudio en la cotidianeidad de las escuelas. Propuesta Educativa, Buenos Aires, v. 43, n. 24, p. 123-130, 2015.
HAN, B. La expulsión de lo distinto. Barcelona: Herder, 2017.
ILLOUZ, E. Intimidades congeladas: las emociones en el capitalismo. Buenos Aires: Herder, 2007.
LAVAL, C. Governar pela crise democrática (entrevista). Revista Cult, p. 21-25, 2016.
LAVAL, C. Pensar el neoliberalismo. In: AGAMBEN, G. et. al. (orgs.). Pensar desde la izquierda: mapa del pensamiento crítico para un tiempo en crises. Madrid: Errata Naturae, 2012. p. 11-24.
LAVAL, C.; DARDOT, P. La pesadilla que no acaba nunca. Barcelona: Gedisa, 2017.
LIMA, A.; GIL, N. Sistemas de pensamento na educação e nas políticas de inclusão (e exclusão) escolar: entrevista com Thomas Popkewitz. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 42, n. 4, p. 1125-1151, out./dez. 2016. https://doi.org/10.1590/S1517-97022016420400201
LOREY, I. Estado de inseguridad: gobernar la precariedad. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.
MARRERO, A. La otra “jaula de hierro”: del fatalismo de la exclusión escolar a la recuperación del sentido de lo educativo: una mirada desde la sociología. Sociologías, Porto Alegre, v. 14, n. 29, p. 128-150, abr. 2012. https://doi.org/10.1590/S1517-45222012000100006
MARTUCCELLI, D. Condición adolescente y ciudadanía escolar. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 41, n. 1, p. 155-174, jan./mar. 2016. https://doi.org/10.1590/2175-623660050
MARTUCCELLI, D. Efeitos sociais e políticos da educação. In: VAN ZANTEN, A. (coord.). Dicionário de educação. Petrópolis: Vozes, 2011. p. 291-295.
MARTUCCELLI, D. Semánticas históricas de la vulnerabilidad. Revista de Estudios Sociales, Bogotá, n. 59, p. 125-133, jan./mar. 2017.
MOREIRA, A. Formação de professores e currículo: questões em debate. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 29, n. 110, p. 35-50, jan./mar. 2021. https://doi.org/10.1590/S0104-40362020002802992
MOREIRA, A.; SILVA JUNIOR, P. Conhecimento escolar nos currículos das redes públicas: reflexões e apostas. Currículo sem Fronteiras, Lisboa, v. 17, n. 3, p. 489-500, 2017.
MOLL, J. Reformar para retardar: a lógica da mudança no EM. Retratos da Escola, Brasília, DF, v. 11, n. 20, p. 61-74, jan./jun. 2017. https://doi.org/10.22420/rde.v11i20.771
MOTTA, V.; FRIGOTTO, G. Por que a urgência da reforma do ensino médio? Medida Provisória nº 746/2016 (Lei nº 13.415/2017). Educação e Sociedade, Campinas, v. 38, n. 139, p. 355-372, abr./ju. 2017. https://doi.org/10.1590/ES0101-73302017176606
NARODOWSKI, M. Un mundo sin adultos: familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad de los mayores. Buenos Aires: Debate, 2016.
NOVAES, R. O campo das políticas públicas de juventude: processos, conquistas e limites. In: MONTECHIARE, R.; MEDINA, G. (orgs.). Juventude e educação: identidades e direitos. São Paulo: Flacso, 2019. p. 6-18.
PACHECO, J. Educação, formação e conhecimento. Porto: Porto, 2014.
PACHECO, J. Para a noção de transformação curricular. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 46, n. 159, p. 64-77, jan./mar. 2016. https://doi.org/10.1590/198053143510
POPKEWITZ, T. Lutando em defesa da alma: a política do ensino e a construção do professor. Porto Alegre: Artmed, 2001.
POPKEWITZ, T. Social epistemology, the reason of ‘reason’ and the curriculum studies. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, Tempe, v. 22, n. 2, p. 1-17, Apr. 2014. https://doi.org/10.14507/epaa.v22n22.2014
SACRISTÁN, J. O que significa o currículo?. In: SACRISTÁN, J. (org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. Porto Alegre: Penso, 2013. p. 16-35.
SAFATLE, V. O circuito dos afetos: corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. Belo Horizonte: Autêntica, 2016
SILVA, M. A BNCC da reforma do ensino médio: o resgate de um empoeirado discurso. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 34, e214130, 2018. https://doi.org/10.1590/0102-4698214130
SILVA, R. A individualização dos percursos formativos como princípio organizador das políticas curriculares para o Ensino Médio no Brasil. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, Rio de Janeiro, v. 27, p. 426-447, abr./jun. 2019. https://doi.org/10.1590/S0104-40362018002601254
SILVA, R. Emocionalização, algoritmização e personalização dos itinerários formativos: como operam os dispositivos de customização curricular? Currículo sem Fronteiras, Lisboa, v. 17, n.3, p. 699-717, dez. 2017.
SILVA, R. R. D. Políticas de constituição do conhecimento escolar para o Ensino Médio no Rio Grande do Sul: uma analítica de currículo. Educação em Revista, v. 30, n. 1, p.127-156, mar. 2014. https://doi.org/10.1590/S0102-46982014000100006
SOUZA, R. O discurso do protagonismo juvenil. São Paulo: Paulus, 2008.
SPÓSITO, M. Interfaces entre a sociologia da educação e os estudos sobre a juventude no Brasil. In: APPLE, M.; BALL, S.; GANDIN, L. (orgs.). Sociologia da Educação: análise internacional. Porto Alegre: Penso, 2013. p. 438-446.
VIÑAO, A. El modelo neoconservador de gobernanza escolar: principios, estrategias y consecuencias en España. In: COLLET, J.; TORT, A. (orgs.). La gobernanza escolar democrática. Madrid: Morata, 2016. p.41-64.
YOUNG, M. Por que o conhecimento é importante para as escolas do século XXI?. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 46, n. 159, p. 18-37, jan./mar. 2016. https://doi.org/10.1590/198053143533
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40362022003003427
Apontamentos
- Não há apontamentos.
Direitos autorais 2020 Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.
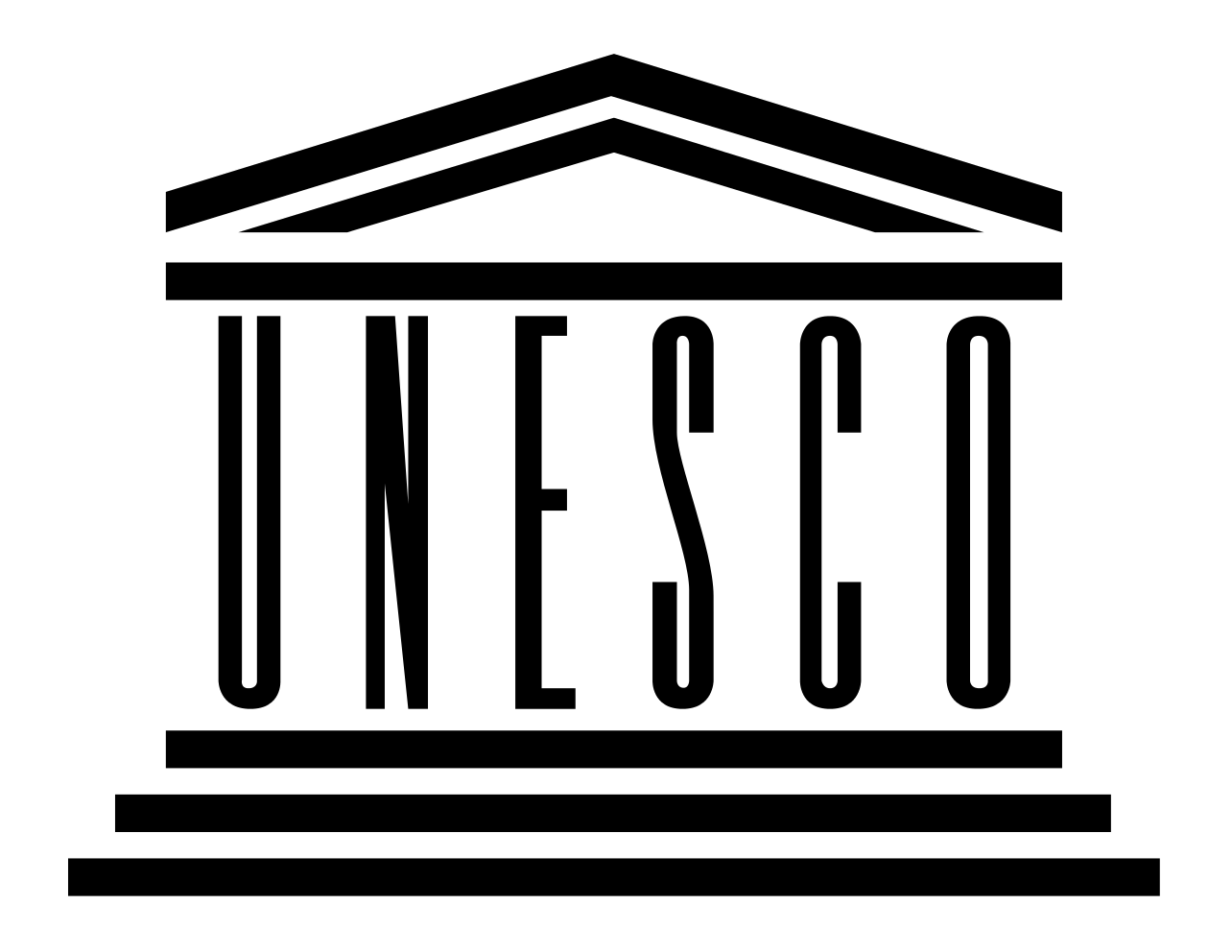



Programa de Apoio às Publicacoes Cientificas (AED) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e tecnologico (CNPq), Ministerio da Educação (MEC), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
Revista chancelada pela Unesco. Revista parceira da Associação Brasileira de Avaliação Educacional (ABAVE)
 Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação
Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação



